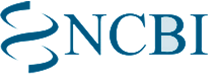TESES
Ativação Sistêmica do Sistema Calicreína-cinina na Dengue e na COVID-19: Possíveis Implicações Fisiopatológicas da Sinalização de Receptores Endoteliais de Bradicinina
Título
Título: Ativação Sistêmica do Sistema Calicreína-cinina na Dengue e na COVID-19: Possíveis Implicações Fisiopatológicas da Sinalização de Receptores Endoteliais de Bradicinina
Aluno: SHARTON VINICIUS ANTUNES COELHO
Orientador(es): LUCIANA BARROS DE ARRUDA
Resumo
Coelho, Sharton Vinícius Antunes. Ativação sistêmica do sistema calicreína-cinina na Dengue e na COVID-19: possíveis implicações fisiopatológicas da sinalização de receptores endoteliais de bradicinina. Rio de Janeiro, 2022. Tese (Doutorado em Imunologia e Inflamação), Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. Disfunções microcirculatórias e alterações na coagulação fazem parte do complexo quadro de doença sistêmica causada pelas infecções pelos vírus da dengue (DENV) e pelo SARS-CoV-2,causador da COVID-19. Na dengue, essas alterações estão associadas a vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, e hipotensão, enquanto na COVID-19 os distúrbios vasculares, associados a hiperinflamação, culminam em manifestações tromboinflamatórios e disfunção respiratória. A via de contato da coagulação ou sistema calicreína-cinina (KKS) é um sistema endógeno composto por um conjunto de serino proteases envolvidas na regulação da coagulação e da pressão sanguínea, além de processos inflamatórios, o que nos motivou a investigar o papel do KKS na patogênese de ambas as infecções. Classicamente, a via é disparada pelo contato do fator XII (FXII) com superfícies carregadas negativamente, evando a sua clivagem autocatalítica e geração de FXII ativado (FXIIa). FXIIa promove ativação da calicreína plasmática (PKa), que é a principal responsável pela geração de bradicinina (BK), o nanopeptídeo liberado de uma região interna do cininogênio de alto peso molecular (HK). Sujeito a regulação por serpina C1INH, esta cascata proteolítica modula funções endoteliais através da sinalização de 2 subtipos de GPCRs, B2R e B1R. Agindo via B2R, a BK induz hipotensão dependente do aumento da produção de óxido nítrico (NO) e promove aumento da permeabilidade microvascular. Dados anteriores do grupo demonstraram que a infecção pelo vírus Sindbis (SINV) induz aumento da expressão de BKR em células de endotélio microvascular cerebral humano (HBMECs), e a adição de BK exógena promoveu aumento da replicação viral in vitro e in vivo, de maneira dependente de B2R. Na primeira parte desta tese, investigamos a participação do KKS nas disfunções endoteliais associadas com a dengue. Estudos clínicos foram concebidos com a finalidade de avaliar o status funcional do KKS no plasma de pacientes infectados pelo DENV. Para tal, tratamos amostras de plasma de doadores infectados versus doadores saudáveis, obtidos da mesma coorte, com o ativador da via de contato dextran sulfato (DXS). Ensaios realizados com substrato cromogênico da PKa mostraram que os níveis da PKa no plasma de pacientes infectados com DENV (n=70) encontravam-se baixos, independentemente da gravidade dos sintomas clínicos ou da fase clínica da infecção. A deficiente formação de PKa no plasma de pacientes com dengue correlacionou-se com o acúmulo da presença de FXII e HK ativados (clivados), sugerindo que a via de contato da coagulação/KKS foi ativada durante o curso da infecção. Empregamos, então, um modelo de infecção endotelial in vitro para investigar o impacto do produto de ativação do KKS – BK e da sinalização do receptor B2R endotelial sobre a infecção do DENV. O ensaio envolve sensibilização de células endoteliais microvasculares de cérebro humano (HBMECs) com BK ou DABK exógenas. Nossos dados demonstraram que a BK, agindo via B2R, promoveu um aumento do título de partículas virais produzidas por HBMEC. Ensaios subsequentes demonstraram que a ativação do B2R em células previamente infectadas reduziu os níveis intracelulares de óxido nítrico (NO) e retardou a apoptose, sugerindo que a inibição da indução de NO por DENV após adição de BK resgatava as células do processo apoptótico, contribuindo para maior replicação viral. Em busca de prova de conceito em modelo animal de II dengue, desafiamos camundongos BALB/c adultos inoculando DENV pela via intracerebral. Nesse modelo, observamos que a inoculação do antagonista do B2R icatibant no momento da infecção diminuiu a carga viral nos tecidos cerebrais dos animais. Iniciando uma avaliação mecanística das vias envolvidas na ativação do KKS pelo DENV, demonstramos que HBMECs infectadas com DENV ou incubadas com meio condicionado de uma linhagem de mastócitos humanos (HMC-1) pré-ativados pelo vírus induziram clivagem de HK in vitro. Em resumo, nosso primeiro conjunto de dados sugere que a infecção de células endoteliais e mastócitos com DENV pode contribuir para ativação do KKS seguido do aumento de BK, que por sua vez modula produção de NO, apoptose do endotélio e replicação viral, eventos possivelmente implicados na patologia microvascular na dengue. Enfrentando o desafio de contribuir para o entendimento da patogênese da COVID-19, avaliamos a função da PKa em amostras de soro de pacientes infectados com SARS-CoV-2 obtidos de duas coortes distintas. Surpreendentemente, determinamos que DXS é capaz de induzir a formação de PKa em amostras de soros controle, semelhante ao observado em amostras de plasma. Em contraste, soros de pacientes com diagnóstico positivo de COVID-19 apresentaram ativação deficiente de PKa, compatível com conversão precoce de fatores do KKS. De fato, ensaios de Western blotting evidenciaram aumento de FXIIa e HKa no soro de pacientes, mas não nos controles saudáveis. Concluindo este trabalho de tese, avaliamos a susceptibilidade, permissividade e ativação celular de HBMECs ao SARS-CoV-2. Usando dois isolados de SARS-CoV-2, denominados RJ1 (linhagem A2) e RJ2 (linhagem B1) constatei que SARS-CoV-2 não induz infecção produtiva nas HBMECs. Não obstante isso, ambos os isolados foram capazes de induzir robusta ativação celular, revelado pelo aumento da expressão dos transcritos de citocinas (IL-6, IFN-β, ISG15, IL-8) e quimiocinas pró-inflamatórias (CCL5 e CCL2), ACE-2 e dos receptores B1R e B2R. Em suma, nosso conjunto de dados sugerem que a ativação sistêmica do sistema de calicreína-cinina durante a infecção pelo DENV e SARS-CoV-2 pode contribuir para a fisiopatologia das manifestações observadas na dengue e COVID-19 através da sinalização dos receptores de bradicinina em células endoteliais. Palavras-chave: DENV;SARS-CoV-2;Calicreína-cinina;Bradicinina;HBMECs;Mastócitos
Palavras-chave:
DENV;SARS-CoV-2;Calicreína-cinina;Bradicinina;HBMECs;Mastócitos
Abstract
Coelho, Sharton Vinícius Antunes. Systemic activation of kallikrein-kinin system in dengue and COVID-19: possible physiopathological implications of endothelial bradykinin receptors signaling. Rio de Janeiro, 2022. Tese (Doutorado em Imunologia e Inflamação), Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. Microcirculatory dysfunctions and changes in coagulation are part of the complex picture of systemic disease caused by infections by dengue virus (DENV) and by SARS-CoV-2, which causes COVID-19. In dengue, these changes are associated with vasodilation, increased vascular permeability, and hypotension, while in COVID-19, vascular disorders associated with hyperinflammation culminate in thromboinflammatory manifestations and respiratory dysfunction. The contact pathway of coagulation or kallikrein-kinin system (KKS) is an endogenous system composed of a set of serine proteases involved in the regulation of coagulation and blood pressure, in addition to inflammatory processes, which motivated us to investigate the role of KKS in the pathogenesis of both infections. Classically, the pathway is triggered by the contact of factor XII (FXII) with negatively charged surfaces, leading to its autocatalytic cleavage and generation of activated FXII (FXIIa). FXIIa promotes activation of plasma kallikrein (PKa), which is primarily responsible for the generation of bradykinin (BK), the nanopeptide released from an internal region of high molecular weight kininogen (HK). Subject to regulation by serpin C1INH, this proteolytic cascade modulates endothelial functions through the signaling of 2 subtypes of GPCRs, B2R and B1R. Acting via B2R, BK induces hypotension dependent on increased production of nitric oxide (NO) and promotes an increase in microvascular permeability. Previous data from the group demonstrated that Sindbis virus (SINV) infection induces an increase in BKR expression in human brain microvascular endothelium cells (HBMECs), and the addition of exogenous BK promoted an increase in viral replication in vitro and in vivo, in a way that B2R dependent. In the first part of this thesis, we investigated the participation of KKS in endothelial dysfunctions associated with dengue. Clinical studies were designed to assess the functional status of KKS in the plasma of DENV-infected patients. To this end, we treated plasma samples from infected versus healthy donors, obtained from the same cohort, with dextran sulfate (DXS) contact pathway activator. Assays performed with PKa chromogenic substrate showed that PKa levels in plasma of DENV-infected patients (n=70) were low, regardless of the severity of clinical symptoms or the clinical stage of infection. Deficient PKa formation in the plasma of dengue patients correlated with the accumulation of the presence of activated (cleaved) FXII and HK, suggesting that the coagulation/KKS contact pathway was activated during the course of infection. We then employed an in vitro endothelial infection model to investigate the impact of the KKS-BK activation product and endothelial B2R receptor signaling on DENV infection. The assay involves sensitization of human brain microvascular endothelial cells (HBMECs) with exogenous BK or DABK. Our data demonstrated that BK, acting via B2R, promoted an increase in the titer of viral particles produced by HBMEC. Subsequent assays demonstrated that activation of B2R in previously infected cells reduced intracellular levels of nitric oxide (NO) and delayed apoptosis, suggesting that inhibition of NO induction by DENV after addition ofBK rescued cells from the apoptotic process, contributing to greater viral replication. In search of proof of concept in an animal model of dengue, we challenged adult BALB/c mice inoculating DENV via the intracerebral route. In this model, we observed that inoculation of the B2R antagonist icatibant at the time of infection decreased the viral load in the animals’ IV brain tissues. Initiating a mechanistic evaluation of the pathways involved in the activation of KKS by DENV, we demonstrate that HBMECs infected with DENV or incubated with conditioned medium from a human mast cell lineage (HMC-1) preactivated by the virus induced HK cleavage in vitro. In summary, our first dataset suggests that infection of endothelial cells and mast cells with DENV may contribute to KKS activation followed by BK increase, which in turn modulates NO production, endothelial apoptosis and viral replication, events possibly implicated. in microvascular pathology in dengue. Facing the challenge of contributing to the understanding of the pathogenesis of COVID-19, we evaluated the function of PKa in serum samples from patients infected with SARS-CoV-2 obtained from two distinct cohorts. Surprisingly, we found that DXS is capable of inducing PKa formation in control sera samples, similar to what was observed in plasma samples. In contrast, sera from patients with a positive diagnosis of COVID-19 showed deficient PKa activation, consistent with early conversion of KKS factors. In fact, Western blotting assays showed an increase in FXIIa and HKa in the serum of patients, but not in healthy controls. Concluding this thesis work, I evaluated whether HBMECs are responsive to SARS-CoV-2. Using two SARS-CoV-2 isolates, named RJ1 (A2 strain) and RJ2 (B1 strain) I found that SARS-CoV-2 does not induce productive infection in HBMECs. Nevertheless, both isolates were able to induce robust cell activation, revealed by the increased expression of cytokine transcripts (IL-6, IFN-β, ISG15, IL-8) and pro-inflammatory chemokines (CCL5 and CCL2), ACE-2 and B1R and B2R receptors. In summary, our dataset suggests that systemic activation of the kallikrein-kinin system during DENV and SARS-CoV-2 infection may contribute to the pathophysiology of the manifestations seen in dengue and COVID-19 through bradykinin receptor signaling in endothelial cells. Keywords: DENV;SARS-CoV-2;Kallikrein-kinin;Bradykinin;HBMECs;Mast cells
Keywords: DENV; SARS-CoV-2; Kallikrein-kinin; Bradykinin; HBMECs; Mast cells
Avaliação da modulação de vias do metabolismo lipídico em células humanas infectadas por SARS-CoV-2
Título
Título: Avaliação da modulação de vias do metabolismo lipídico em células humanas infectadas por SARS-CoV-2
Aluno: VINICIUS CARDOSO SOARES
Orientador(es): PATRICIA TORRES BOZZA VIOLA
Resumo
SARS-CoV-2, causador da COVID-19, é um vírus capaz de causar um extenso remodelamento lipídico, alterando vias de síntese de biogênese de corpúsculos lipídicos (CLs), reposta inflamatória e ativação de vias de morte celular por piroptose, tudo isso beneficiando a replicação viral. No entanto, o papel dos CLs, assim como das proteínas responsáveis pela sua indução, ainda é pouco explorado durante a infecção pelo SARS-CoV2. Nossa hipótese é que o SARS-CoV-2 é capaz de modular o metabolismo lipídico do hospedeiro em seu próprio benefício, promovendo a indução dos CLs e da resposta inflamatória característica da patogênese da COVID-19. Aqui descrevemos que o SARSCoV-2 é capaz de modular o metabolismo lipídico e a biogênese de CLs de monócitos humanos de pacientes positivos para COVID-19, assim como em monócitos humanos de indíviduos saudáveis e células do epitélio pulmonar. Através de análises por western blotting observamos aumento da expressão e da ativação de fatores de transcrição e proteínas de síntese dos CLs como os SREBPs e a DGAT1, respectivamente. Além do aumento da expressão, nós observamos por RT-PCR o aumento de varias vias de síntese de triglicerídeos e de colesterol em células infectadas, assim como observamos o acúmulo dessas biomoléculas em células do epitélio pulmonar. Através do silenciamento gênico ou da inibição farmacológica dos SREBPs e da DGAT1, nós observamos uma forte redução na biogênese dos CLs, de vias de síntese e do acúmulo de triglicerídeos e de colesterol em monócitos humanos de individuos saudáveis e células epiteliais pulmonares. Análises de microscopia confocal e eletrônica demonstraram uma colocalização de proteínas celulares, como a DFCP1 e a RAB18 com os CLs, o RNA de fita dupla (dsRNA) e com as proteínas virais, como a NSP6, indicando que os CLs funcionam como parte do complexo de replicação e montagem do SARS-CoV-2. Por último, a infecção pelo SARS-CoV-2 foi capaz de induzir o aumento na produção de citocinas e mediadores lipídicos inflamatórias, além de promover a ativação do complexo inflamassoma NLRP3 em monócitos humanos de pacientes positivos para COVID19, assim como monócitos de indivíduos saudáveis e células do epitélio pulmonar humano infectados com SARS-CoV-2. Não obstante, observamos que a inibição farmacológica dos SREBPs e da DGAT1 impactou na ativação do complexo inflamassoma e na liberação de citocinas e mediadores lipídicos inflamatórios. Esses dados sugerem que a inibição do metabolismo lipídico impacta diretamente na replicação viral e na morte celular por piroptose induzida pelo SARS-CoV-2. Em conjunto, demonstramos que a reprogramação do metabolismo lipídico durante a infecção pelo SARS-CoV-2 é essencial para a replicação e manutenção viral, sendo os CLs, organelas chaves nesses processos, participam ativamente de diversos processos imunometabolicos associados a patogênese do SARS-CoV-2. Dessa forma, nosso trabalho sugere que a inibição do fator transcricional SREBP e da DGAT1, impacta na biogênese dos CLs, e estes podem sevir como possíveis alvos para futuro desenvolvimento de estratégias terapêuticas para a COVID-19, contribuindo para o controle da infecção viral e da resposta imune. Palavras chaves: SARS-CoV-2; COVID-19; Metabolismo lipídico; Corpúsculo lipídico; Caspase-1; Piroptose.
Palavras-chave:
SARS-CoV-2;COVID-19; Metabolismo lipídico; Corpúsculo lipídico; Caspase-1; Piroptose
Abstract
SARS-CoV-2, which causes COVID-19, is a virus capable of causing extensive lipid remodeling, altering synthesis pathways of lipid droplets biogenesis (LDs), inflammatory response and activation of cell death pathways by pyroptosis, all of this benefiting viral replication. However, the role of LDs, as well as the proteins responsible for their induction, is still poorly explored during SARS-CoV-2 infection. Our hypothesis is that SARS-CoV-2 is able to modulate the host’s lipid metabolism to its own benefit, promoting the induction of LDs and the inflammatory response characteristic of the pathogenesis of COVID-19. Here we describe that SARS-CoV-2 is able to modulate the lipid metabolism and biogenesis of human monocyte LDs from COVID-19 positive patients, as well as human monocytes from healthy individuals and lung epithelial cells. Through western blotting analysis, we observed an increase in the expression and activation of transcription factors and synthesis proteins of LDs such as SREBPs and DGAT1, respectively. In addition to the increase in expression, we observed by RT-PCR the increase of several synthesis pathways of triglycerides and cholesterol in infected cells, as well as the accumulation of these biomolecules in lung epithelial cells. Through gene silencing or pharmacological inhibition of SREBPs and DGAT1, we observed a strong reduction in the biogenesis of LDs, synthesis pathways and accumulation of triglycerides and cholesterol in healthy human monocytes and lung epithelial cells. Confocal and electron microscopy analyzes demonstrated a colocalization of cellular proteins such as DFCP1 and Rab18 with LDs, double-stranded RNA (dsRNA) and with viral proteins such as NSP6, indicating that LDs function as part of the complex replication and assembly of SARS-CoV-2. Finally, SARS-CoV-2 infection was able to induce an increase in the production of cytokines and inflammatory lipid mediators, in addition to promoting the activation of the NLRP3 inflammasome complex in human monocytes from COVID-19 positive patients, as well as monocytes from healthy individuals and human lung epithelial cells infected with SARS-CoV-2. Nevertheless, we observed that the pharmacological inhibition of SREBPs and DGAT1 impacted the activation of the inflammasome complex and the release of cytokines and inflammatory lipid mediators. These data suggest that inhibition of lipid metabolism directly impacts viral replication and SARS-CoV-2-induced pyroptosis cell death. Together, we demonstrate that the reprogramming of lipid metabolism during SARS-CoV-2 infection is essential for viral replication and maintenance, and LDs, key organelles in these processes, actively participate in several immunometabolic processes associated with the pathogenesis of SARS-CoV-2. Thus, our work suggests that the inhibition of the transcriptional factor SREBP and DGAT1 impacts the biogenesis of LDs, and these may serve as possible targets for the future development of therapeutic strategies for COVID19, contributing to the control of viral infection and of the immune response. Keywords: SARS-CoV-2; COVID-19; Lipid metabolism; Lipid droplets; Caspase-1;Pyroptosis.
Keywords:
SARS-CoV-2;COVID-19;Lipid metabolism;Lipid droplets;Caspase-1;Pyroptosis
Investigação da Ativação e Modulação das Respostas Imunes de Macrófagos e Neutrófilos Induzidas pela Quitina
Título
Título: Investigação da Ativação e Modulação das Respostas Imunes de Macrófagos e Neutrófilos Induzidas pela Quitina
Aluno: NAJARA CAVALCANTE RODRIGUES
Orientador(es): RODRIGO TINOCO FIGUEIREDO
Resumo
RODRIGUES, Najara Cavalcante. INVESTIGAÇÃO DA ATIVAÇÃO E MODULAÇÃO DAS RESPOSTAS IMUNES DE MACRÓFAGOS E NEUTRÓFILOS INDUZIDAS PELA QUITINA. Rio de janeiro, 2021 (Doutorado em Imunologia e Inflamação) – Instituto de Microbiologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. Resumo A quitina é um polímero formado por unidades de N-acetilglucosamina, unidas por ligações β-1,4. É o polissacarídeo mais difundido do planeta, e o segundo mais abundante sendo superado apenas pela celulose. É o principal componente do exoesqueleto dos insetos e crustáceos, um dos mais importantes da parede celular dos fungos e está presente na cutícula e o ovo dos helmintos. Estudos mostram que a exposição à quitina está associada a processos inflamatórios e doenças alérgicas como asma. O reconhecimento da quitina pelo sistema imune ainda não é totalmente esclarecido. No entanto a quitina induz o recrutamento de leucócitos para o sítio da inflamação. Macrófagos e neutrófilos são células essenciais no combate às infecções fúngicas devido aos seus diversos mecanismos como o reconhecimento de PAMPs fúngicos através de PRRs, fagocitose, produção de ROS e no caso dos neutrófilos degranulação e liberação de mediadores tóxicos. Receptores TLR2, dectina-1, NOD2, TLR9, MR têm sido apontados como os principais reconhecedores de quitina. No entanto, ainda não se sabe se isso ocorre de fato. Este trabalho teve como objetivo avaliar as respostas de macrófagos e neutrófilos à quitina. Nossos resultados demonstraram que a quitina comercial insolúvel não é capaz de induzir produção de TNF em macrófagos in vitro, entretanto a quitina solúvel foi capaz de induzir a produção de TNF in vitro. Além disso, esse reconhecimento não depende de TLR-2, mas é dependente da ativação de MyD88. Resultados in vivo mostraram que a quitina particulada é capaz de induzir recrutamento de leucócitos e liberação de redes de DNA no pulmão dos animais. A quitina particulada também foi capaz de induzir a liberação de NETs em neutrófilos humanos e promover a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS), por mecanismos dependentes da ativação das vias de Syk, Src cinases e da produção de ROS via NADPH oxidase. Palavras-chave:
Palavras-chave: quitina; macrófagos; neutrófilos; quito-oligossacarídeo; TNF; ROS; NETs
Abstract
RODRIGUES, Najara Cavalcante. INVESTIGAÇÃO DA ATIVAÇÃO E MODULAÇÃO DAS RESPOSTAS IMUNES DE MACRÓFAGOS E NEUTRÓFILOS INDUZIDAS PELA QUITINA. Rio de janeiro, 2021 (Doutorado em Imunologia e Inflamação) – Instituto de Microbiologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. Abstract Chitin is a polymer formed by N-acetylglucosamine units, joined by β-1,4 bonds. It is the most widespread polysaccharide on the planet, and the second most abundant, surpassed only by cellulose. It is the main component of the exoskeleton of insects and crustaceans, one of the most important of the fungal cell wall and is present in the cuticle and egg of helminths. Studies show that exposure to chitin is associated with inflammatory processes and allergic diseases such as asthma. The recognition of chitin by the immune system is still not fully understood. However, chitin induces the recruitment of leukocytes to the site of inflammation. Macrophages and neutrophils are essential cells in the fight against fungal infections due to their various mechanisms such as the recognition of fungal PAMPs through PRRs, phagocytosis, ROS production and, in the case of neutrophils, degranulation and release of toxic mediators. TLR2, dectin-1, NOD2, TLR9, MR receptors have been identified as the main chitin recognizers. However, it is not yet known whether this occurs. This work aimed to evaluate the responses of macrophages and neutrophils to chitin. Our results showed that particulate and insoluble chitin is not able to induce TNF production in macrophages in vitro, however soluble chitin was able to induce TNF production in vitro. Furthermore, this recognition is not TLR-2 dependent, but is dependent on MyD88 activation. In vivo results showed that particulate chitin is able to induce leukocyte recruitment and release of DNA networks in the lung of animals. Particulate chitin was also able to induce the release of NETs in human neutrophils and promote the production of reactive oxygen species (ROS), by mechanisms dependent on the activation of Syk pathways, Src kinases and ROS production via NADPH oxidase. Keywords: chitin; macrophages; neutrophils; chitooligosaccharide; TNF; ROS; NETs
Keywords:
chitin;macrophages;neutrophils;chitooligosaccharide;TNF;ROS;NETs
O Papel de Células B na Imunidade a Doenças Infecciosas e Vacinas: Produção de II-10, Centro Germinativo e Anticorpos Neutralizantes
Título
Título: O Papel de Células B na Imunidade a Doenças Infecciosas e Vacinas: Produção de II-10, Centro Germinativo e Anticorpos Neutralizantes
Aluno: LUAN FIRMINO CRUZ
Orientador(es): HERBERT LEONEL DE MATOS GUEDES
Resumo
O papel dos linfócitos B e seus produtos é antagônico em diferentes doenças infecciosas. Dessa forma, o nosso objetivo é identificar o papel deste linfócito em modelo de leishmaniose cutânea murina e na imunidade vacinal anti-viral. As leishmanioses são doenças negligenciadas e a Leishmania amazonensis é um agente etiológico da leishmaniose cutânea difusa no Brasil. Os linfócitos B têm papel controverso no contexto das leishmanioses. Nossos dados demonstraram que as células B são as principais produtoras da citocina associada à patogênese IL-10 e que animais BALB/Xid (deficientes em linfócitos B) tiveram menores lesões, porcentagem e número de células B produtoras de IL-10 que animais BALB/c. Além disso, os camundongos selvagens demonstraram maiores níveis de anticorpos no soro quando comparados com animais deficientes. Apesar de conseguirem produzir IL-10 em interação com L. amazonensis in vitro, as células B-1 peritoneais não foram capazes de fazer com que animais BALB/Xid desenvolvessem lesões ou níveis de anticorpos séricos equivalentes aos animais BALB/c após transferência adotiva. Para testar se os linfócitos B-2 seriam patogênicos neste modelo, reconstituímos animais BALB/Xid e observamos um maior desenvolvimento lesional em animais reconstituídos quando comparados com animais BALB/Xid não reconstituídos. Para determinar se o observado anteriormente era reproduzível em animais selvagens, utilizamos uma técnica de depleção de linfócitos B-1 peritoneais pelo tratamento intraperioteneal com água. Animais tratados com água no peritônio tiveram menores lesões em comparação ao animal que recebeu PBS e isso não era revertido pela reconstituição com células B-1, indicando que ou o tratamento não depletava somente células B-1 ou que a reconstituição não tenha sido bem sucedida. Resolvemos então fazer o tratamento e reconstituição com ou linfócitos B-1 ou células peritoneais excluindo células B-1. Observamos mudanças drásticas nas populações peritoneais destes animais, o que nos indicou que o tratamento fazia mais do que somente depletar VII células B-1. Os animais que receberam células peritoneais que não linfócitos B-1 tiveram lesões ainda menores do que os que foram somente tratados com água. Grande parte da controvérsia do papel dos linfócitos B nas leishmanioses está nos diferentes backgrounds murinos utilizados. Nós infectamos animais susceptíveis (BALB/c) e parcialmente resistentes (C57BL/6) para entender como os linfócitos B poderiam atuar durante a infecção. No curto prazo (36 dpi), animais C57BL/6 tiveram mesmas lesões e caragas parasitárias, mas maior número de células nos linfonodos drenantes (dLNs). Já no longo prazo (100 dpi), animais C57BL/6 tiveram menores lesões e mesma carga parasitária e números de células nos dLNs que os camundongos BALB/c. Observamos diferenças nas proporções e números de populações de linfócitos B entre os grupos. Além disso, o modelo C57BL/6 mostrou menor produção dos isotipos IgM, IgG total e IgG1 em comparação com animais BALB/c em diversos momentos da infecção. Em momentos anteriores ao pico lesional, os animais C57BL/6 demonstraram maior produção de anticorpos relacionados a respostas do tipo 2: IgG2c (comparado ao IgG2a de BALB/c) e IgG2b. Como no modelo BALB/c a produção de IL-10 por linfócitos B parece estar relacionada com a patogênese. Nós infectamos animais deficientes em linfócitos B ou IL-10 no backgroud C57BL/6 para entender se isso se aplicava aos animais parcialmente susceptíveis. Nossos dados indicaram que os linfócitos B não participam na patogênese deste modelo e que a presença de IL-10 é indispensável para o controle da lesão e carga parasitária. Sabendo que animais C57BL/6 induzem respostas do tipo 1 com maior frequência, resolvemos testar se isso poderia estar associado com a resistência parcial exibida por esse modelo. Fizemos uma transferência adotiva para animas RAG-1 -/- e MHC-II-/- com uma combinação de célula T e B vindas de animais selvagens, IFN-γ -/- e IL-10-/- . Esse experimento está em andamento, mas uma citometria do sangue desses animais mostrou que as células T foram capazes de reconstituir os animais RAG-1-/- com sucesso, mas não animais MHC-II-/-. Além disso, linfócitos B não sucederam em reconstituir estes modelos. Com o aparecimento da pandemia da COVID-19, nosso grupo resolveu contribuir ao estudar formulações vacinais neste contexto. Nós utilizamos vacinações intradérmicas (ID) e intramusculares (IM) com proteína spike (S Ptn) em conjunto com diversos adjuvantes. De maneira geral, nossos achados indicaram que a melhor via de administração vacinal é a ID e que a formulações contendo Poli I:C + Alum, AddaS03 + CPG2395, AddaS03 ou CPG2395 sozinhos são muito eficazes na produção de anticorpos anti-S Ptn e neutralizantes. Além disso, a combinação de AddaS03 + CPG2395 mostrou-se muito eficaz também pela via IM. Juntos, esses dados demonstram papel patogênico dos linfócitos B no modelo susceptível à infecção por L. amazonensis pela produção de IL-10 e IgG1, indicam também que os linfócitos B não parecem ter participação significante no modelo parcialmente resistente e que o IL-10 é importante em um mecanismo de controle de desenvolvimento de lesão e carga parasitária. Além disso, os linfócitos B desempenham papel importante na indução de proteção numa vacina anti-viral.
Palavras-chave: linfocitos b
Abstract
The role of B lymphocytes and their products is antagonistic in different infectious diseases. Thus, our objective is to identify the role of this lymphocyte in a murine cutaneous leishmaniasis model and in anti-viral vaccine immunity. Leishmaniasis are neglected diseases and Leishmania amazonensis is an etiological agent of diffuse cutaneous leishmaniasis in Brazil. B lymphocytes have a controversial role in the context of leishmaniasis. Our data demonstrated that B cells are the main producers of the cytokine associated with IL-10 pathogenesis and that BALB/Xid animals (deficient in B lymphocytes) had lower lesions, percentage and number of IL-10 producing B cells than BALB/Xid animals. ç. In addition, wild-type mice demonstrated higher levels of serum antibodies when compared to deficient animals. Despite being able to produce IL-10 in interaction with L. amazonensis in vitro, peritoneal B-1 cells were not able to cause BALB/Xid animals to develop lesions or serum antibody levels equivalent to BALB/c animals after adoptive transfer. To test whether B-2 lymphocytes would be pathogenic in this model, we reconstituted BALB/Xid animals and observed greater lesion development in reconstituted animals when compared to nonreconstituted BALB/Xid animals. To determine whether the previously observed was reproducible in wild animals, we used a technique of depleting peritoneal B-1 lymphocytes by intraperiotheneal water treatment. Animals treated with water in the peritoneum had smaller lesions compared to the animal that received PBS and this was not reversed by reconstitution with B-1 cells, indicating that either the treatment did not deplete only B-1 cells or that the reconstitution was not successful. We then decided to do the treatment and reconstitution with either B-1 lymphocytes or peritoneal cells excluding B-1 cells. We observed dramatic changes in the peritoneal populations of these animals, which indicated that the treatment did more than just deplete B-1 cells. Animals that received peritoneal cells other than B-1 lymphocytes IX had even smaller lesions than those that were treated with water alone. Much of the controversy regarding the role of B lymphocytes in leishmaniasis lies in the different murine backgrounds used. We infected susceptible (BALB/c) and partially resistant (C57BL/6) animals to understand how B lymphocytes could act during infection. In the short term (36 dpi), C57BL/6 animals had the same lesions and parasitic burdens, but a greater number of cells in the draining lymph nodes (dLNs). In the long term (100 dpi), C57BL/6 animals had lower lesions and the same parasite load and cell numbers in the dLNs as the BALB/c mice. We observed differences in the proportions and numbers of B lymphocyte populations between the groups. In addition, the C57BL/6 model showed lower production of IgM, total IgG and IgG1 isotypes compared to BALB/c animals at different times of infection. At moments before the lesion peak, C57BL/6 animals showed higher production of antibodies related to type 2 responses: IgG2c (compared to IgG2a of BALB/c) and IgG2b. As in the BALB/c model, IL-10 production by B lymphocytes appears to be related to pathogenesis. We infected animals deficient in B lymphocytes or IL-10 in the C57BL/6 background to understand if this applied to partially susceptible animals. Our data indicated that B lymphocytes do not participate in the pathogenesis of this model and that the presence of IL-10 is indispensable for the control of the lesion and parasite load. Knowing that C57BL/6 animals induce type 1 responses more frequently, we decided to test whether this could be associated with the partial resistance exhibited by this model. We performed an adoptive transfer to RAG-1-/- and MHC-II-/- animals with a combination of T and B cells from wild animals, IFN-γ-/- and IL-10-/-. This experiment is ongoing, but blood cytometry from these animals showed that T cells were able to successfully reconstitute RAG-1-/- animals, but not MHC-II-/- animals. Furthermore, B lymphocytes did not succeed in reconstituting these models. With the emergence of the COVID-19 pandemic, our group decided to contribute by studying vaccine formulations in this context. We used intradermal (ID) and intramuscular (IM) spike protein (S Ptn) vaccinations in conjunction with various adjuvants. Overall, our findings indicated that the best route of vaccine administration is ID and that formulations containing Poly I:C + Alum, AddaS03 + CPG2395, AddaS03 or CPG2395 alone are very effective in producing anti-S Ptn and neutralizing antibodies. . In addition, the combination of AddaS03 + CPG2395 was also very effective by the IM route. Together, these data demonstrate the pathogenic role of B lymphocytes in the model susceptible to infection by L. amazonensis by the production of IL-10 and IgG1, also indicating that B lymphocytes do not seem to have a significant participation in the partially resistant model and that IL-10 is important in a mechanism of control of lesion development and parasite load. In addition, B lymphocytes play an important role in inducing protection in an anti-viral vaccine
Keywords: B lymphocytes; Leishmania amazonensis; vaccine
Papel da Proteína 1 Relacionada ao Receptor de Lipoproteína de Baixa Densidade (Lrp1) em Modelo Murino de DPOC
Título
Título: Papel da Proteína 1 Relacionada ao Receptor de Lipoproteína de Baixa Densidade (Lrp1) em Modelo Murino de DPOC
Aluno: VINICIUS CARDOSO SOARES
Orientador(es): MANUELLA LANZETTI DAHER DE DEUS
Resumo
ANJOS, Francisca Fátima dos. Papel da proteína 1 relacionada ao receptor de lipoproteína de baixa densidade (LRP1) em modelo murino de DPOC. Rio de Janeiro, 2022. Tese (Doutorado em Imunologia e Inflamação), Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) tem como principal causa a exposição prolongada à fumaça de cigarro (CS) que induz uma resposta inflamatória crônica e um desequilíbrio protease/antiprotease. Esse desequilíbrio leva à degradação ou ao remodelamento da MEC (matriz extracelular) no enfisema, etiologia mais grave da DPOC. A proteína 1 relacionada ao receptor de lipoproteína de baixa densidade (LRP1) é um receptor versátil envolvido na endocitose, sinalização celular, na resposta inflamatória e a reparo tecidual. Esse receptor é um regulador essencial da MEC, uma vez que está intimamente envolvido com metaloproteinases (MMPs) e inibidores de metaloproteinases. Assim, o objetivo desse estudo foi avaliar o papel do LRP1 no desenvolvimento do enfisema, elucidando se a associação LRP1/MMP12 é um alvo molecular de interesse nessa doença. Para tanto, submetemos camundongos C57BL/6 à exposição diária de CS por 30 dias (CS30), por 60 dias (CS60) e seguido por mais 60 dias em ar ambiente (Ex-CS). In vitro, macrófagos alveolares de linhagem (AMJC2-11) foram estimulados com extrato da fumaça de cigarro (CSE5%) ou transfectados com RNA de interferência específico para LRP1 (siLRP1). Nossos resultados mostraram destruição tecidual pulmonar nos grupos CS. Em CS60 e ExCS esse efeito foi acompanhado por ma redução na expressão de LRP1 e aumento da expressão de MMP-12. A análise proteômica identificou 750 proteínas que interagem com LRP1. Além disso, mostramos a colocalização de MMP-12 e LRP1 (in vivo e in vitro) e uma possível interação entre essas proteínas no pulmão. LRP1 ICD foi clivado e direcionado ao núcleo em Ex-CS. As análises in vitro com AMJC2-11, mostraram que CSE5% induziu o aumento de LRP1 e o siLRP1 levou a redução da expressão MMP-12 e aumento de NFκB e IL-6. Verificamos também que as células siLRP1+CSE5% apresentaram o percentual de fagocitose reduzido. Em conjunto, esses dados sugerem que LRP1 é um receptor versátil, susceptível à CS, parece desencadear uma sinalização nuclear mediada por LRP1 ICD e pode participar de interações com diversas proteínas, como a MMP-12, no pulmão. Em macrófagos de linhagem alveolar, LRP1 pode estar relacionado ao mecanismo fagocítico da CS, à secreção de IL-6 e a expressão de NFκB e MMP-12. Palavras-chave: LRP1; MMP-12; Matriz extracelular; Macrófago alveolar; Enfisema; COPD
Palavras-chave:
LRP1; MMP-12; Matriz extracelular; Macrófago alveolar; Enfisema; COPD
Abstract
ANJOS, Francisca Fátima dos. Papel da proteína 1 relacionada ao receptor de lipoproteína de baixa densidade (LRP1) em modelo murino de DPOC. Rio de Janeiro, 2022. Tese (Doutorado em Imunologia e Inflamação), Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. The primary cause of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is the prolonged exposure to smoke (CS) that induces a chronic inflammation response and protease/antiprotease disbalance. This disbalance leads to degradation or severe remodeling of extracellular matrix (ECM) in emphysema, a more serious etiology of COPD. Low-density lipoprotein receptor-related protein 1 (LRP1) is a versatile receptor involved in endocytosis, cell signaling, inflammatory responses, and tissue repair. LRP1 is a master regulator receptor of ECM, as it is closely related to metalloproteinases (MMPs) and metalloprotein inhibitors. This study aimed to evaluate the role of LRP1 in developing emphysema and elucidating whether the LRP1/MMP12 association is a target of molecular interest in this disease. For this, we exposed C57BL/6 mice to CS for 30 days (CS30), for 60 days (CS60), and followed by another 60 days in room air (Ex-CS). In vitro, lineage alveolar macrophages (AMJC2-11) were stimulated with cigarette smoke extract (CSE5%) or transfected with LRP1-specific siRNA (siLRP1). Our results showed lung tissue destruction in the CS groups. In CS60 and Ex-CS, this effect was accompanied by a reduction in LRP1 expression and an increase in MMP-12 expression. Proteomics analysis identified 750 proteins interacting with LRP1. Furthermore, we show the colocalization of MMP-12 and LRP1 (in vivo and in vitro) and the possible interaction between these proteins on weight. LRP1 ICD was cleaved and targeted to the nucleus in Ex-CS. In vitro analyses with AMJC2-11 showed that CSE5% increased LRP1 and siLRP1 led to a reduction in MMP-12 expression and an increase in NFκB and IL-6. The analyses showed that siLRP1+CSE5% cells reduced percentage of phagocytosis. These data suggest that LRP1 is a versatile receptor, susceptible to CS, appears to trigger ICD-LRP1 mediated nuclear signaling, and may interact with several proteins, such as MMP-12, in the lung. In alveolar lineage macrophages, LRP1 may be related to the phagocytic mechanism of CS, the release of IL-6, and the expression of NFκB and MMP-12. Keywords: LRP1; MMP-12; Extracellular matrix; Alveolar macrophage; Emphysema; COPD
Keywords:
LRP1;MMP-12;Extracellular matrix;Alveolar macrophage;Emphysema;COPD
Siga nosso perfil no Instagram
Links Úteis
Universidade Federal do Rio de Janeiro Centro de Ciências da Saúde – Bloco D (sala D1-029) Cidade Universitária – Ilha do Fundão
CEP 21.941-590 – Rio de Janeiro – RJ – Telefone: (21) 3938-6748 – E-mail: pos_imuno@micro.ufrj.br
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro de Ciências da Saúde – Bloco D (sala D1-029) Cidade Universitária – Ilha do Fundão
CEP 21.941-590 – Rio de Janeiro – RJ
Telefone: (21) 3938-6748
E-mail: pos_imuno@micro.ufrj.br